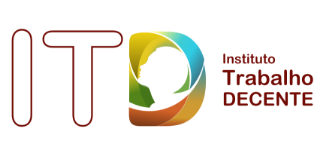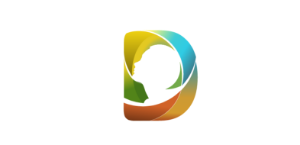No Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, três profissionais bem-sucedidas em suas áreas compartilham vivências e reflexões
Em 25 de julho de 1992, mulheres negras de 32 países se reuniram no que seria o 1º Encontro de Mulheres Negras da América Latina e do Caribe. Hoje, 28 anos depois, centenas de mulheres negras seguem celebrando e organizando ações na data — oficializada como o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional da Mulher Negra. Desta vez, a maioria das atividades são virtuais, respeitando o isolamento social devido à Covid-19 — causador de uma pandemia que vem afetando as mulheres negras de forma particularmente grave, especialmente em suas relações profissionais.
Quando o assunto é raça e trabalho, todos os indicadores apontam para a situação desfavorável da população negra. Dentre os desocupados (ou seja, naquele universo de pessoas desempregadas, mas em busca de um trabalho), os negros são maioria (64,2%). Eles constituem maioria, também, entre os ocupados (25,2% a mais do que a população branca). Mas, mesmo nesse universo, sua situação é pior que a da população branca: são maioria desproporcional de subutilizados (66,1%), têm mais pessoas na informalidade (quase 13% a mais que brancos), recebem salários menores — (rendimento médio mensal de brancos ocupados foi 73,9% superior — independentemente de nível de formação e são minoria avassaladora em cargos gerenciais (apenas 29,9% são negros).
Esses dados, publicados pelo IBGE em 2019, são de 2018, e traçam um retrato do Brasil há cerca de dois anos. Ou seja: tudo isso, antes da pandemia — que impacta desproporcionalmente a população negra, levando a uma piora desse cenário. “Novamente é a população afro-brasileira que, depois de mais de cem anos da dita abolição da escravatura, continua sendo subjugada no mercado de trabalho”, diz Germana Pinheiro, a primeira mulher (e mulher negra) Coordenadora Geral de Direito da Universidade Católica do Salvador — curso antigo e tradicional, com 64 anos de história.
Para mulheres negras, a disparidade de renda é ainda mais dramática: elas ganham 44,4% do que os homens brancos recebem — 58.6% comparado com mulheres brancas ou 79,1% do que homens negros recebem (IBGE, 2019). “Ser mulher negra está diretamente relacionado com a situação de pobreza e desigualdade que a pessoa enfrenta no mundo do trabalho, e os desafios que encontrará na inserção, permanência e ascensão no mercado”, explica Patrícia Lima, atuante de longa data em pautas raciais no serviço público, setor privado, organizações internacionais e, atualmente, na sociedade civil como Associada Fundadora e Diretora Executiva do Instituto Trabalho Decente (ITD).
No trabalho, na educação e em qualquer espaço de poder da sociedade, o domínio ainda é de brancos — principalmente homens brancos. Tatiana Silva, que trabalha há 10 anos com pesquisa sobre políticas públicas e relações raciais no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), explica que todos os dados estão relacionados em uma lógica social que naturaliza as posições de acordo com a cor da pele. “Como se naturaliza chegar em espaços de poder e não encontrar pessoas negras, se naturaliza também que ali não é o lugar do negro. É muito natural então que o negro esteja nas periferias, que sejam as maiores vítimas de violência, o maior percentual da população em situação de rua”. Afinal, se não estão nos espaços de poder, onde essa maioria está? “Tanto de um extremo ou outro da hierarquia social, a sociedade naturaliza isso”, explica.
Família, educação e empoderamento
Germana, Patrícia e Tatiana são três profissionais negras e bem-sucedidas. Ainda hoje, são três exceções que, como costuma dizer Patrícia, apenas servem para comprovar que existe uma regra. Nascidas e criadas na Bahia, vindas de famílias negras que as apoiaram incondicionalmente, lhes ensinaram a andar sempre de cabeça erguida e com esforço, e as proporcionaram educação de qualidade desde novas. Tiveram a oportunidade de fazer graduação em instituições de renome, especializações, mestrado, doutorado, e alcançaram grande reconhecimento em suas carreiras.
As três mulheres estudaram em escolas particulares bem conceituadas em Salvador, e tiveram de lidar desde novas com as diferenças que observavam em casa — em famílias negras de classe trabalhadora — e na escola — de maioria branca e condição financeira mais elevada. “Eu sempre entendi que certas coisas que aconteciam comigo de alguma forma tinham a ver com ser negra. Claro, com percepção de criança, mas desde muito cedo eu tinha consciência do que eu era, que meu cabelo era daquela textura e minha pele daquela cor porque eu era negra, e que isso era normal, mas que existia preconceito”, explica Patrícia sobre navegar entre esses espaços.

Patrícia Lima é Diretora Executiva do Instituto Trabalho Decente (ITD)
A mãe de Patrícia sempre repetia um mantra para ela: “você não é melhor que ninguém, ninguém é melhor que você”. Foi um processo, mas Patrícia disse que hoje entende que o racismo é problema da sociedade. Para atingir esse entendimento, ela aponta a família como um pilar estruturante. Após os desafios e dores que passou na infância e adolescência, Patrícia diz que passou a se entender agente de transformação daquele processo e diz que “foi criada para achar (ou saber) que posso ser tudo”. “Quando eu cheguei na faculdade, eu fiz a escolha de enfrentar o racismo. Não pelo confronto direto, mas através dos argumentos, utilizando os instrumentos possíveis, falando sobre isso, provocando e inquietando as pessoas para tentar mudar essa realidade”, diz.
Patrícia cumpriu esse objetivo em todas suas atividades profissionais: advogou, foi presidente da Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial da OAB/BA, trabalhou na Secretaria de Políticas para as Mulheres e na Secretaria do Trabalho da Bahia, onde ajudou a criar e implementar a Agenda Bahia do Trabalho Decente, na Organização Internacional do Trabalho e por fim ajudou a fundar e é atualmente a Diretora Executiva do Instituto Trabalho Decente, que promove o trabalho decente para o desenvolvimento sustentável com foco em pessoas vulneráveis.

Germana Pinheiro é a primeira mulher (e mulher negra) Coordenadora Geral de Direito da Universidade Católica do Salvador
Germana, que vem de uma família de matriarcas e educadoras, também é advogada, mas seguiu carreira acadêmica. Teve a oportunidade de estudar, lecionar e coordenar em diversas instituições de ensino privadas e públicas — em especial a Universidade Católica do Salvador e a Universidade Federal da Bahia — e pôde acompanhar o crescimento da presença de negros no nível superior nas últimas décadas. Essa mudança no perfil universitário, diz ela, foi resultado de programas como o FIES e PROUNI para universidades privadas, como observou em primeira mão na Católica, e do estabelecimento de cotas em universidades públicas — pela primeira vez na história, mais da metade dos alunos no nível superior público são negros, segundo dados do IBGE de 2019.
Patrícia e Tatiana também observaram as mudanças. Tatiana conta que, na época em que fez mestrado, pela primeira vez o programa atingiu a cifra de 20% de estudantes negros. “Parece piada, logo em Salvador, uma cidade com maioria negra. Mas, para mim, foi histórico: eu nunca tive 20% de colegas negros na vida”, relembra.
Infelizmente, ainda há um longo caminho a percorrer para que isso se reflita na docência: apenas 16% de docentes em universidades públicas e privadas são negros (INEP, 2018), e o número de mulheres negras professoras de pós-graduação não chega a 3% (INEP, 2016). Germana afirma que durante sua extensa trajetória acadêmica, teve pouquíssimos professores e professoras negros; os que teve, afirma, “foram realmente marcantes, porque me mostravam que era possível chegar no meu objetivo maior de ter uma carreira consolidada na educação”. Ela encara o trabalho como uma responsabilidade social, pois busca ser para meninas e mulheres negras aquilo que esses professores e professoras foram para ela: alguém que mostre que a educação, o espaço acadêmico, a docência e a pesquisa podem e devem ser ocupados por elas. “Esse espaço nos pertence também”, resume.
As três mulheres concordam que educação de qualidade, acesso a oportunidades e a inserção de pautas raciais no ensino são essenciais para uma mudança na realidade racial brasileira. “Para que haja uma alteração no cenário, só com muito tempo e com empenho de professores e professoras para que se leve à população a nossa trajetória, nossa história, para que a narrativa social passe a conter esses elementos”, defende Germana.
Para Tatiana, uma questão essencial é a mudança no plano das crenças, das ideias. “Estou muito convencida de que o esforço dos pequenos passos, dentro da educação, em cada sala de aula, em cada livro didático, vai acumulando para que a gente vá desconstruindo um imaginário social que naturaliza as posições de acordo com a cor da pele”.

Tatiana Silva trabalha há 10 anos com pesquisa sobre políticas públicas e relações raciais no IPEA
No doutorado que completou em Administração na Universidade de Brasília, Tatiana pesquisou modelos de análises de políticas públicas e seus achados reforçaram seu entendimento de que as mudanças vão acontecendo gradualmente quando o assunto é igualdade racial no Brasil. Por isso, é importante não desanimar. Por mais que pareçam coisas pequenas agora — especialmente diante das necessidades tão urgentes de segmentos da população — “muitas mudanças e debates que estamos fazendo hoje vão acumulando e aos poucos mudando a formação discursiva da sociedade, o imaginário social. Vão repercutir mais lá pra frente”, defende Tatiana.
Tatiana ressalta também que o movimento social negro, principalmente o das mulheres negras, foi fundamental para esse acúmulo de debates e é responsável por muitas das conquistas já feitas. Ela estava presente quando foi efetivada a decisão final acerca das cotas nas universidades públicas, e diz que nunca esquecerá as palavras de Luiza Bairros — então ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial — quando a parabenizou pela conquista: “isso já falamos há 30 anos”. “Quer dizer, aquela conquista que eu estava vivenciando ali foi fruto de muitas pessoas que doaram suas vidas para defender a equidade, o combate às desigualdades raciais, enfrentar o racismo”, explica Tatiana.
Patrícia costuma definir o racismo brasileiro como camaleônico: vai se atualizando e adaptando nas formas de manifestação. “Com uma sociedade complexa como essa, as pessoas praticam racismo de forma muito natural”, explica Patrícia. Para ela, as pessoas primeiro têm de entender o que é o racismo, e “não importa se a pessoa tem pós-doutorado. Não tem a ver só com formação, as práticas racistas são institucionais”. Então, elas têm de entender que é necessário atuar ativamente contra o racismo: não basta não ser racista, devem ser antirracistas. “É preciso ter uma postura de combate ao racismo. Na sua família, entre seus amigos, no seu ambiente de trabalho, em qualquer lugar que assista uma prática racista, você deve reconhecer que certas coisas não são naturais, sair da zona de conforto e fazer os outros saírem também”.
Tatiana resume: “A gente só desconstrói os tabus e preconceitos explicitando, levando para o debate, dando oportunidades às crianças de terem uma formação antirracista desde o início. Está muito melhor do que foi para mim, mas ainda está muito longe do ideal”.
O racismo e a vida profissional
A mulher negra no trabalho “tem de ser muito boa”, explica Patrícia. Durante sua trajetória profissional, ela teve o privilégio de trabalhar ao lado de outras mulheres negras icônicas, algumas com as quais construiu sólidas amizades. Todas, de uma forma ou outra, eram grandes profissionais e Patrícia explica que “isso acontece de forma natural, porque a gente quer ser melhor. Ocupamos aquele espaço para fazer um excelente trabalho”. Como discurso geral, excelência é algo exigido de qualquer profissional, mas, na prática, o nível de tolerância a erros tem gênero e raça.
“Há uma certa tolerância com profissionais mulheres brancas e principalmente homens brancos. Suas fragilidades e falhas são mais toleradas… o que não é uma realidade imaginável para mulheres como eu”, pois a falha da mulher negra muitas vezes é usada para apontar que ela não era a pessoa certa para se estar ali, explica Patrícia. “É cruel isso de ter de ser muito boa sempre, o tempo inteiro, em tudo que você faz”.
Além da excelência exigida na capacitação, experiência e atuação profissional, as três também concordam que o mercado de trabalho é mais exigente na apresentação e aparência física das mulheres negras — novamente, falhas não são bem toleradas. Isso fica evidente quando, em meio a uma fala, Tatiana comenta “porque eu não posso, como mulher negra, me dar o direito de andar de qualquer forma. Tenho que me arrumar”. Quando Tatiana trabalhava com auditoria e consultoria empresarial, diz que era impensável usar o cabelo natural, e que todas as mulheres alisavam o cabelo. “Ninguém lhe diz isso diretamente, mas está dito sem ser falado. Está implícito no padrão de beleza, no código de aparência para se estar ocupando determinados locais”.
Mesmo com a aparência impecável, munidas de conhecimento e experiência, tanto Germana quanto Patrícia compartilham lembranças de inúmeras vezes que, dentro do contexto profissional, houve desentendimentos em relação às suas identidades e posições. Ambas dizem que é comum que as pessoas sempre assumam que outro colega, branco, é a pessoa de maior cargo, e não elas. Em um evento, Patrícia conta que chegou a não participar propriamente de uma atividade para a qual foi convidada porque uma funcionária não lhe deu atenção devida quando ela informou suas credenciais. “É a dificuldade de admitir um corpo negro ocupando aquele espaço, principalmente uma mulher”, aponta Germana.
Tatiana relembra que já houve ocasiões em que teve o mesmo desempenho que seus colegas, mas recebeu promoções menores e o valor só foi equiparado depois que fez uma reclamação formal. Também fala sobre ser diminuída em reuniões, nas quais outras pessoas tentaram explicar para ela seus próprios tópicos de especialidade, ou repetiam o que ela já havia falado. “Se você tem a possibilidade de chamar atenção quando isso acontece, as coisas podem ir para direção certa. Mas nem todas nós estamos em posição de corrigir o outro”. Tatiana diz que durante a vida aprendeu a escolher as brigas para se preservar do desgaste: “não pelos outros, mas sim como cuidado consigo mesma”. Germana acrescenta: “é sempre uma luta, e não é todo dia que você quer viver essa luta. Isso é muito cruel”.
Trabalhadora negra e a pandemia
A realidade atual para as pessoas negras, e em especial as mulheres negras, é ainda pior devido aos impactos da pandemia da Covid-19. Dentre as diversas desigualdades que as impactam de forma tão alarmante durante a crise sanitária, consta a sobrecarga devido à dupla ou até tripla jornada de trabalho, o aumento na violência doméstica, a superexposição ao vírus, dificuldades econômicas e de acesso à saúde e outros serviços básicos.
Muitas das profissões que não pararam têm maioria de mulheres negras: recepcionistas, atendentes, profissionais de limpeza, telemarketing e, principalmente, empregadas domésticas (92% mulheres, das quais 70% são negras — IPEA, 2018). Além das que se expõe por não poderem praticar o isolamento, certas profissionais da saúde, as mais expostas ao vírus, também estão em maioria feminina: 85% das enfermeiras, auxiliares e técnicas são mulheres. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, 46,5% são negras e negros.
Para as empregadas domésticas que seguiram trabalhando, há maior risco de exposição ao vírus. Para as que foram dispensadas, há a insegurança do sustento familiar. Para as empregadoras que ofereceram licença a essas mulheres e estão em casa, trabalhando remotamente, muitas vezes há dupla ou até tripla jornada de trabalho: resultado do acúmulo de atividades de cuidado (com a casa, com os filhos ou outros parentes). “Quem é que está fazendo a comida, limpando a casa, administrando as aulas das crianças e ainda tendo de dar resposta ao seu trabalho em home office? Imagina o que é estar inserida dentro de uma casa, ter de cuidar de todos e trabalhar ali”, diz Patrícia.
“Houve várias pessoas no início da pandemia que falavam: o vírus é democrático e pega todo mundo. Mas a gente sabe que não é nada disso. A população negra está em maior presença nos locais em que não há saneamento, condições de higiene e moradia adequada, em regiões que tem enfrentado situações de violência dentro das áreas residenciais, de embates constantes que persistiram mesmo durante a quarentena”, aponta Tatiana. Ela diz se preocupar muito também com o “pós-pandemia”: há também os efeitos da pandemia no mercado de trabalho, na educação, e com certeza na recuperação econômica. Os negros estão em maioria dentre os empregos mais precários, que na maioria das vezes não podem ser executados em sistema de teletrabalho. Eles são os primeiros a serem demitidos e muitas vezes os últimos a serem recontratados formalmente”.
Em defesa das vidas negras, pelo bem viver
Além da pandemia, outro tópico que dominou a mídia nos últimos meses é a morte do norte-americano George Floyd e as ações alinhadas ao movimento Vida Negras Importam que dominaram as ruas do mundo todo. Alinhado a essas iniciativas, este ano o lema do Julho das Pretas é: em defesa das vidas negras, pelo bem viver. O Julho das Pretas é uma das iniciativas que revolvem em torno do dia Internacional das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas e Dia Nacional da Mulher Negra: se trata de uma agenda conjunta e propositiva que surgiu na Bahia para fortalecer organizações de mulheres negras e trazer seus assuntos para a pauta nacional.
Tatiana encara o foco midiático no movimento Vidas Negras Importam como uma “janela de oportunidade” para as iniciativas nacionais, mas rebate aqueles que criticam os movimentos negros brasileiros, afirmando que aqui não temos uma atuação ampla como há nos Estados Unidos. “Temos tantos movimentos negros no Brasil fazendo essa discussão sobre violência, racismo, trabalhos que discutem a filtragem racial, como esses elementos na formação das forças de polícia. Inclusive, debates feitos pelas próprias pessoas, membros da polícia. Tem tantos movimentos de juventude, de combate à discriminação, à violência contra os jovens negros, mas que não conseguiram ganhar a repercussão que vem ganhando a partir desse debate que veio de fora. Essas pessoas estão falando toda vida as mesmas coisas — mas nem todo mundo estava disposto a ouvir”.
Por Thais Magalhães Rosa
* Artigo também publicado em https://www.brasildedireitos.org.br/noticias/630-como-ser-uma-mulher-negra-no-mercado-de-trabalho-brasileiro